‘Você compra remédio ou comida’: as escolhas das famílias que vivem com um salário mínimo em SP
Chefes de família que vivem em condições precárias contaram à BBC Brasil como se desdobram para fazer esse dinheiro render até o próximo mês.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/6/5/Yg2lDGT0CRK4PkjXx71w/bbc001.jpg)
O salário que Reginaldo dos Santos Santana recebe como auxiliar de limpeza é a única renda de sua família (Foto: Felix Lima/BBC Brasil)
Há certos meses em que Carlos e Odilene deixam de comprar sabonete. Moradores de uma ocupação, eles trocam o conforto da higiene por um pedaço de carne a mais no prato. Reginaldo e Rafaela não têm previsão para trocar o telhado quebrado do barraco em que vivem, na favela de Paraisópolis. Melhor aguentar as goteiras a deixar de alimentar seus três filhos. Renata enfrenta uma maratona diária: percorre quilômetros em busca de feiras e sacolões que vendam alimentos mais baratos para a produção de marmitex. É na diferença de centavos na batata ou no tomate que ela encontra o lucro para sustentar sozinha a família, composta por mais sete crianças, em um cortiço na região da Cracolândia.
Essas são as escolhas diárias feitas por famílias que vivem com um salário mínimo, R$ 937, na cidade de São Paulo. Chefes de família contaram à BBC Brasil como se desdobram para esticar por 30 dias os rendimentos – e evitar ter que morar na rua.
Uma pesquisa divulgada em julho deste ano pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontou que o salário mínimo para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.810,36. O montante é quatro vezes maior do que o valor atual do mínimo brasileiro.
O levantamento considera os custos das necessidades básicas de uma família, como moradia, alimentação, educação, saúde e lazer. Para o Dieese, R$ 937 seria o valor mínimo para viver com dignidade em novembro de 1999. Logo, as três famílias ouvidas pela reportagem sofrem com uma defasagem de quase 20 anos no orçamento.
Em uma condição financeira como essa, elas admitem que, por diversas vezes, não tiveram comida suficiente para todos na casa.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/8/5/elCNBISDKL9DW1AbuGwA/bbc002.jpg)
Carlos e Odilene torcem para que o filho de 18 anos tenha um futuro diferente do deles e tenha sucesso profissional (Foto: Felix Lima/BBC Brasil)
Moradia
Na favela de Paraisópolis, na Zona Sul, o barro engole o par de tênis do auxiliar de limpeza Reginaldo dos Santos Santana, de 28 anos, em seu trajeto até o ponto de ônibus. Um forte cheiro de esgoto preenche os becos da área.
Em um barraco de dois andares feito com portas velhas, madeirites e restos de tábuas moram Reginaldo, a mulher, Rafaela, e os três filhos do casal, de 8, 5 e 2 anos. O imóvel é alugado por R$ 250, valor que abocanha mais de um quarto do salário de Reginaldo. Em dia de chuva na segunda maior favela de São Paulo, eles não dormem. O risco é o barraco desabar.
“Quando chove um pouco forte, fica parecendo um chuveiro. Molha logo a cama. Mas não tem jeito. É morar aqui ou na rua”, diz Reginaldo.
A falta de estrutura da casa não se limita aos problemas no telhado e nas paredes. Um grito agudo de Raianny, a filha de 5 anos do casal, anuncia que o banho começou no cômodo abaixo. O banheiro do barraco não tem chuveiro. Uma torneira acoplada na ponta de um cano à meia altura faz as vezes de uma ducha.
A água gelada faz tremer o corpo magro da menina. “É só no primeiro minuto, logo ela se acostuma”, diz Rafaela, enquanto ensaboa a criança.
Em uma ocupação a poucos quilômetros dali, o pedreiro Carlos Augusto Silva, de 43 anos, conta que ajudou a erguer 12 prédios de 23 andares, há três anos, em Interlagos, na Zona Sul. Depois de prontas, ele jamais entrou nas torres de alto padrão.
“A gente entra com a mão de obra, mas não vale a pena para a gente. É como diz a música: ‘Está vendo aquele prédio? Eu ajudei a fazer, mas hoje não posso passar nem perto'”, diz Carlos.
Cansado de viver no limite do orçamento, ele decidiu erguer um barraco com teto de lona, colocar um colchão dentro e morar.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/m/M/Nl9UO3QjGyh0OHbZeV8g/bbc003.jpg)
Renata com cinco de seus sete filhos, que cria vendendo marmitex na Cracolândia (Foto: Felix Lima/BBC Brasil)
A ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em um terreno na Zona Sul de São Paulo abriga 300 famílias. O objetivo de quem vive ali é aliviar o custo do aluguel e mostrar ao poder público que há espaços valiosos e ociosos na cidade. Em sua visão, ali seria um local ideal para a construção de moradias populares.
A família, no entanto, não pode ficar reunida sob o teto de lona. O filho mais velho de Carlos e Odilene sofre de epilepsia e atraso mental, condição que forçou a mulher a largar sua ocupação como empregada doméstica para se dedicar aos cuidados dele.
Por causa da doença, ele precisa de um ambiente mais adequado para viver, razão pela qual a família paga R$ 400 pelo aluguel de uma casa de dois cômodos na região, onde vivem a mãe e os dois filhos. Já Carlos passa a maior parte das noites no barraco da ocupação, algumas na companhia da mulher.
O problema de saúde do filho garante uma pensão mensal no valor de um salário mínimo – a única renda segura com que a família pode contar.
Como complemento, o pedreiro faz bicos em troca de R$ 100 por dia. Mas, em tempos de crise, ele chega a passar semanas em branco.
A cerca de 22 quilômetros dali, no centro de São Paulo, a mão direita de Renata Moura Soares, de 34 anos, segura a mão do filho menor enquanto a esquerda mistura os temperos na panela para fazer uma macarronada. Sozinha, ela sustenta seus sete filhos – o mais velho de 20 anos, o mais novo de 1 – vendendo marmitex na região da Cracolândia.
“(Meus clientes) são os usuários e quem trabalha lá dentro. Eu trabalho com vagabundo, com todo tipo de gente. Eu não escolho cliente. Eu não quero saber quem é. Não quero saber o que eles estão fazendo lá dentro. Eu quero saber que eu tenho que vender a minha comida e receber”, conta.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/S/3/uy7helSeWnDUk0UipBxw/bbc004.jpg)
Paraisópolis, segunda maior favela de São Paulo, é vizinha de área nobre (Foto: Felipe Souza/BBC Brasil)
Hoje, a família vive em um cortiço na região central da capital. A casa antiga, com fiação aparente, foi dividida em vários cômodos, dois deles ocupados pelos Soares. O banheiro, no entanto, é compartilhado com mais três famílias. Renata não reclama das condições do imóvel: é melhor do que dormir com as crianças na rua, como já aconteceu.
Ela conhece a dona do imóvel e consegue alguma flexibilidade na cobrança do aluguel – que normalmente custaria R$ 400 mensais. O preço é acertado a depender do desempenho de venda de suas quentinhas – em um dia bom, ela chega a vender até 50 marmitex por R$ 15 cada.
Mãe solteira, ela sempre teme não dar conta de chegar ao fim do mês abrigada.
“Quem é mãe não merece pagar aluguel a vida inteira”, diz.
Alimentação
Quem vive com o orçamento contado tem uma preocupação urgente: garantir comida no prato por 30 dias. Para isso, as famílias desenvolvem estratégias.
Reginaldo faz uma maratona semanal pelos supermercados da região de Paraisópolis, aproveitando as diferentes promoções de cada estabelecimento. Se a tarefa é bem sucedida, ele consegue manter os potes de arroz e feijão abastecidos. Se não, vai faltar.
“Aí, eu peço (dinheiro) emprestado para uma vizinha. Se acaba de novo, eu pego com outra pessoa no mês seguinte para pagar a anterior e assim vai”, conta.
Mas a fome teima em aparecer.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/S/c/dN3PZyTgqLIx6zAkvb2Q/bbc005.jpg)
Pedreiro diz que criar dois filhos com um salário mínimo é um jogo de escolhas: ‘Você deixa de cortar o cabelo para comer’ (Foto: Felix Lima/BBC Brasil)
Rafaela, a mulher de Reginaldo, vai à feira todos os sábados para “fazer a xepa”, como é conhecida a prática de recolher e reaproveitar os alimentos descartados pelos feirantes.
Ela espera as barracas serem desmontadas para selecionar, em meio a restos de caixotes e pilhas de frutas, verduras e legumes parcialmente estragados, o que servirá no almoço de sua família. “Dá vergonha, é muito ruim. Mas tem que fazer”, diz a dona de casa.
O casal conta que fica abalado em datas comemorativas, como o Dia da Criança e Natal, quando seus filhos pedem presentes. Mas a noção de prioridade é vital na gestão financeira da família. “Em dia de festa, a gente compra ovo, salsicha e dá um pedacinho para cada um. Às vezes, eles comem até puro. Não ligam.”
Se o feijão está escasso, Rafaela aumenta a quantidade de pão que a família come.
Odilene, na ocupação, enfrenta racionamento semelhante. “A gente só compra o essencial: arroz e feijão. Mistura só de vez em quando”, conta, referindo-se a carnes, ovos ou legumes.
A economista e supervisora de preços do Dieese Patrícia Lino Costa diz que a dificuldade que as famílias sentem no estômago se confirma nos números: São Paulo tem a segunda cesta básica mais cara do Brasil entre as capitais, perdendo apenas para Porto Alegre.
“Com metade de um salário mínimo, hoje essas famílias compram uma cesta básica. Com a metade restante, tem que dar conta de todas as outras despesas”, diz Costa.
O pedreiro Carlos define sua vida em uma ocupação na Zona Sul como um jogo de escolhas.
“Você compra remédio ou comida. Às vezes, você deixa de cortar o cabelo para comer, deixa de comprar um sabonete para comer. Você deixa de tirar barba. Você sempre precisa cortar uma coisa para fazer a outra”, conta ele.
A precariedade da ocupação é compensada pela certeza de que não passarão fome. Graças às doações recebidas, eles garantem três refeições diárias. “Aqui não acontece de ficar sem comida, mas em casa acontece. E não é raro”, diz Carlos.
Renata faz um esforço ainda maior para enxugar gastos com alimentos – já que a produção de marmitas depende disso. O bairro de Campos Elíseos, onde ela vive com os sete filhos, tem um alto custo de vida.
“Você tem que pesquisar, ir mais longe mesmo. Já chegou a faltar leite e açúcar em casa. Semana passada eu passei aperto porque não tinha dinheiro para comprar leite e fralda para o meu filho. Hoje, fui com R$ 200 fazer compras perto de casa e não consegui trazer quase nada”, contou.
Descontando o dinheiro que usa para reabastecer seu estoque de mercadorias e embalagens para produzir marmitas, Renata conta que sobra menos de um salário mínimo.
“Com esse dinheiro, ninguém consegue ter nada. A renda que você tem é o que você vai comendo. Não consigo comprar roupa, material escolar, remédios e ainda cortaram o Bolsa Família que eu recebia. Essa semana, meu bebê estava sem um sapatinho para usar e eu tive que tirar do dinheiro das mercadorias para comprar”, diz.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/R/X/JbInPqQaqOgQaeW1tH3A/bbc007.jpg)
Filhos de Renata brincam no corredor de cortiço onde moram no centro de SP (Foto: Felipe Souza/BBC Brasil)
Futuro
Os pais de família que vivem com um salário mínimo costumam ter alguns elementos em comum: a baixa escolaridade, a infância marcada por privações e pela necessidade de trabalhar. Um enredo que tentam, com diferentes níveis de sucesso, evitar repetir com seus filhos.
Desde que se mudou de Ilhéus, na Bahia, para São Paulo, há dois anos e meio, a família de Paraisópolis nunca teve uma renda mensal superior a um salário mínimo. Rafaela, que estudou até a 5ª série e já trabalhou como auxiliar de limpeza, diz que sonha que o marido consiga um emprego bom e que o casal compre uma casa.
Ela ainda espera que os filhos estudem e obtenham sucesso profissional. Aos 8 anos, no entanto, o mais velho ainda não começou a 1ª série.
Reginaldo gosta de sonhar no trajeto de cerca de uma hora e meia de ônibus até o trabalho. É no tempo no transporte coletivo que ele se imagina em outra vida: “É um pouco difícil de realizar. Pelo que eu ganho não tem como… Mas meu sonho é ter uma casa própria e um carrinho na garagem para eu dar para a minha família”, conta.
Para ele, o ideal seria ganhar ao menos dois salários mínimos “para me levantar um pouco”. Mas ao ser questionado sobre suas expectativas disso acontecer, Reginaldo fica em silêncio.
A família chegou a receber Bolsa Família, mas não conseguiu renovar o benefício porque a certidão de nascimento do filho acabou danificada e os pais não conseguiram fazer o cadastro.
O casal que vive na ocupação também parou os estudos no ensino fundamental, mas tem a esperança de que seu filho de 18 anos trace uma história diferente. “Ele ganhou uma bolsa de estudos muito boa e está tendo uma formação mais digna”, disse.
Os olhos de Carlos se enchem de lágrimas ao lembrar de um pedido feito pelo caçula. “Nunca pude dar um videogame para o meu filho. Até hoje ele fala disso. Meu filho, seu pai ainda vai conseguir lhe dar o melhor videogame do mundo. Isso fica na minha cabeça, até choro”, afirmou.
Para a economista do Dieese Patrícia Costa, a política atual perpetua a pobreza porque as famílias não conseguem ter gastos além de alimentação e moradia.
“Essa realidade impede a mudança de classe porque as crianças precisam ir trabalhar. Da forma que estamos hoje, a tendência é piorar a situação dessas famílias. O que deve haver é uma política de valorização do salário mínimo, investimento em saúde e, principalmente, em educação básica e profissionalizante”, diz.
A comerciante que vive na Cracolândia conta que se incomoda por seus filhos crescerem em um ambiente de degradação e violência. Embora acorde às 6h para dar conta de preparar e vender almoço e jantar nas ruas da Cracolândia, ela não conseguiu evitar que os filhos mais velhos tivessem que deixar a escola para ajudá-la no trabalho. A história repete sua própria juventude:
“Ver que meu filho não pode dar continuidade na escola, da mesma forma que eu, é triste. Eu estudei até a terceira série e hoje convivo com essa falta”, afirma, antes de completar: “Futuramente, a gente não sabe o que pode acontecer. Medo qualquer mãe tem. Dá medo de amanhã ou depois ele querer partir para o lado errado porque a preocupação dele ao ver a minha dificuldade para conseguir alguma coisa é grande”.
Fonte: G1
Crise econômica pode levar Brasil de volta ao mapa mundial da fome da ONU
Relatório de entidades da sociedade civil que será levado à ONU alerta que Brasil pode voltar ao mapa da fome
 No armário suspenso sobre a geladeira quase vazia, sacos de farinha de milho empilhados de uma lateral a outra são a única abundância no casebre onde moram três adultos e uma criança, no alto de um morro do bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.
No armário suspenso sobre a geladeira quase vazia, sacos de farinha de milho empilhados de uma lateral a outra são a única abundância no casebre onde moram três adultos e uma criança, no alto de um morro do bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.
— Estamos comendo angu a semana toda. Ganhamos de uma vizinha. Mas é melhor angu do que nada. Carne, não vemos há meses — lamenta Maria de Fátima Ferreira, de 61 anos, enquanto abre as portas do móvel, como se precisasse confirmar seu drama.
Três anos depois de o Brasil sair do mapa mundial da fome da ONU — o que significa ter menos de 5% da população sem se alimentar o suficiente —, o velho fantasma volta a assombrar famílias como a de Maria de Fátima. O alerta, endossado por especialistas ouvidos pelo GLOBO, é de relatório produzido por um grupo de mais de 40 entidades da sociedade civil, que monitora o cumprimento de um plano de ação com objetivos de desenvolvimento sustentável acordado entre os Estados-membros da ONU, a chamada Agenda 2030. O documento será entregue às Nações Unidas na semana que vem, durante a reunião do Conselho Econômico e Social, em Nova York.
Na casa de Maria de Fátima, a comida se tornou escassa depois que ela foi demitida do emprego de cozinheira na prefeitura de Belford Roxo, há oito meses. Os dois filhos mais velhos vivem de bicos, cada vez mais raros. Os três integram a estatística recorde de 14 milhões de desempregados, resultado da recessão iniciada no fim de 2014. Pesam ainda a crise fiscal, que tem levado União, estados e municípios a fazerem cortes em programas e políticas de proteção social, e a turbulência política.
— Quando o país atingiu um índice de pleno emprego, na primeira metade desta década, mesmo os que estavam em situação de pobreza passaram a dispor de empregos formais ou informais, o que melhorou a capacidade de acesso aos alimentos. A exclusão de famílias do Bolsa Família, iniciada ano passado, e a redução do valor investido no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), que compra do pequeno agricultor e distribui a hospitais, escolas públicas e presídios, são uma vergonha para um país que trilhava avanços que o colocava como referência em todo o mundo — afirma Francisco Menezes, coordenador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e consultor da ActionAid, que participaram da elaboração do relatório.

‘Mãe, tem leite? Como não tenho nada em casa, digo: vai dormir que a fome passa’
É justamente à noite que a fome é mais sentida pelo indivíduo. Rede de solidariedade ameniza falta de dinheiro para a compra de alimentos
- Na última quarta-feira, os seis filhos de Rita de Cássia dos Santos Souza, de 37 anos, não foram dormir com fome. Era noite de festa na casa de Maria Helena Cardoso, que completava 66 anos. O cardápio: feijão tropeiro. Maria Helena mora com o marido e a mãe, de 87 anos, em um casarão no entorno da Praça Redenção, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Costuma ser o refúgio das crianças da família Souza quando falta comida em casa. Principalmente na hora do almoço, depois da escola.
— À noite, meus filhos não costumam ter sono cedo e ficam assistindo TV. Daí, quando chega umas 23h, eles pedem: “Mãe, tem biscoito? Mãe, tem leite?” Como eu não tenho nada em casa, tenho de dizer: Vão dormir que a fome passa — conta Cássia, como costuma ser chamada.
É justamente à noite que a fome é biológica e fisiologicamente mais sentida pelo indivíduo, que acaba tendo dificuldades para dormir, explica Maria do Carmo de Freitas, especialista em antropologia da alimentação e autora do livro “Agonia da fome”, sobre uma comunidade pobre de Salvador:
— A fome é tida no campo subjetivo como uma metáfora do fantasma que caminha à noite. O indivíduo externaliza que é o fantasma da fome tomando o corpo.
rede de solidariedade

Cássia diz que Maria Helena é fundamental na vida da família:
— A casa dela está sempre cheia, e eu sou um dos quatro filhos de coração dela — completa, enquanto amamenta a filha mais nova, Carolina, de 3 anos.
A cozinheira desempregada amamentou todos os seis filhos por pelo menos três anos. Além de dificilmente ficarem doentes, no caso da mais nova é uma refeição a menos com que se preocupar. Ela também recebe alimentos e roupas da igreja evangélica que frequenta. A família pode não saber, mas faz parte de um contexto classificado por especialistas como estratégias da fome.
— As pessoas acabam se integrando a uma rede de apoio social, que pode vir de amigos, familiares, da igreja e de ONGs. Pede ao vizinho, compra fiado. Quanto maior essa rede, menor a chance de passarem fome — observa a nutricionista Rosana Salles da Costa, professora do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, e pesquisadora sobre segurança alimentar.
Em 2008, em uma pesquisa realizada em cinco mil lares que recebiam o Bolsa Família, foi identificado que um terço deles vivia em segurança alimentar por conta dessas estratégias, conta Rosana
Edir Dariux Teixeira, de 58 anos, amiga de Maria Helena, integra essa rede de solidariedade. Já dedica mais de duas décadas ao voluntariado. Ajudou Betinho em sua saga pela arrecadação de alimentos nos primeiros anos do Movimento Ação da Cidadania, nos anos 1990, entidade da qual faz parte até hoje. Cansou de pagar as compras de supermercado da Maria de Fátima Ferreira, que passou uma semana comendo só angu. São vizinhas. Não tem dinheiro sobrando para fazer caridade, mas não consegue ver um irmão, como chama, passar necessidade e ficar de braços cruzados:
— Digo que sou uma pobre metida a besta — brinca.
Quando a solidariedade leva à falta de comida na própria casa, recorre à filha, onde dorme algumas noites e se alimenta. A solidariedade parece vocação.
— A primeira vez que fiz isso tinha 12 anos. Comprei fiado na conta da minha mãe na banca para distribuir aos meus colegas na escola. Quando ela descobriu, levei uma surra — conta Edir, rindo. — Eu não quero saber se é pobre, rico, gay, espírita, evangélico. Eu olho para o ser humano. Se a pessoa precisar de ajuda, vou ajudar. Às vezes, ela só quer uma palavra de apoio.
Outro refúgio importante para driblar a fome são as escolas. Segundo Rosana, pesquisas mostram que durante as férias escolares cai a qualidade da alimentação de crianças e adolescentes.
Cássia e o marido, Orlando, estão desempregados. Ele sempre foi o chefe de família. Pedreiro de grandes obras, chegaram a viver por um bom tempo com uma renda mensal de R$ 2 mil. Mas, com a crise paralisando o setor de construção civil, está sem emprego há dois anos. Há oito meses, nem bico aparece. Não foi à festa de Maria Helena porque estava com febre e diarreia. Segundo Cássia, ele tem estado abatido e já emagreceu muito. Sente-se incapaz por não conseguir trazer dinheiro para casa. Cássia é cozinheira. Mas o rompimento de uma artéria na última gravidez limita as oportunidade de trabalho. Para piorar a situação, a família é ameaçada de despejo pelo administrador da casa que alugam em uma comunidade próxima à favela de Antares, em Santa Cruz. Devem R$ 2.500 de cinco meses atrasados de aluguel. A única renda certa do casal são R$ 120 mensais do Bolsa Família.
— Quando você ganha R$ 2 mil e cai para nada é muito difícil se adaptar. É como ganhar na Mega-Sena e de repente perder tudo — diz Cássia.
‘Admitir a fome não é fácil. Causa vergonha’

Admitir a fome não é tarefa fácil. Causa vergonha e desconforto, observa Maria do Carmo. Renata (nome fictício), de 39 anos, recebeu a reportagem no quarto e cozinha erguidos em um terreno que divide com outras duas famílias, todos parentes, em Vendas de Varanda, comunidade de Santa Cruz. É mãe solteira de dois filhos, de 10 e 6 anos. Teve de largar o emprego, há cerca de um ano, porque não conseguia mais pagar uma babá para tomar conta das crianças. Há seis meses, quando teve cortado os R$ 160 do Bolsa Família, passaram a conviver com a fome.
— O mais velho entende um pouco mais. Mas o mais novo, quando é dia de levar lanche para a escola e eu não tenho nada para mandar, não quer ir. Ele sente muita vergonha — conta Renata, que não permitiu ser fotografada. — Não tenho orgulho da minha condição. Não quero que saibam o que eu passo.
No dia em que a reportagem esteve em sua casa, o almoço era arroz, doado pela mãe, e sardinha frita, presente de um amigo. A pesquisadora Maria do Carmo identificou que as pessoas acabam criando outras expressões para se referir à fome, para evitar mencionar a palavra — a chamam de “coisa”, “mulher mulambenta”, “demônio”.
— É muito difícil admitir a possibilidade de fome dentro de casa quando se tem crianças. Na comunidade que estudei, a população explicava a fome como um fantasma, como espíritos, como algo que está fora do corpo. Uma externalidade, porque é duro imaginar a fome dentro do filho, dentro do bebê. Essa comunidade tinha muitas escadas. Tinha muito dessas expressões: “Ela que veio aqui e atacou” ou “derrubou da escada”. Como se a fome fosse do mal — explica Maria do Carmo.
Única refeição do dia

Sentado na ponta da penúltima mesa do Restaurante Popular de Niterói, o único que ainda funciona no Estado do Rio, Francisco Carlos Leite, de 61 anos, come o que deve ser a sua única refeição do dia. Um prato com arroz, feijão, angu, alface, picadinho de fígado e uma banana. Naquele dia, dormiria na rua pela terceira noite, nos fundos do terminal rodoviário, ali perto. O local se tornou refúgio de desempregados e vítimas da violência, como Francisco.
— Eu sou um homem decente, trabalhador. Onde está o Estado? — indaga.
Quando foi visitar amigos em Macaé, traficantes saquearam sua casa. Está impedido de voltar, alertaram vizinhos. Passar fome ainda não parece ser o maior problema. Chora quando lembra que levaram até o cachorro.
— O estado de insegurança alimentar não pode ser medido apenas pelo prato de comida, mas pelo que provoca essa falta de certeza de ter o que comer — explica a especialista Maria do Carmo de Freitas.
Fonte: O Globo
Crise com nome
e sobrenome
CANDIDATOS NA FILA DO EMPREGO CONTAM SUAS HISTÓRIAS
Os números dão a dimensão da crise: 14 milhões tentam e não conseguem trabalho, quase 3 milhões estão fora do mercado há mais de dois anos, cerca de 30% são jovens. Por trás das estatísticas, há histórias de vida. Os depoimentos a seguir foram colhidos durante uma ação social de inscrição para vagas, na Zona Oeste do Rio. Muitos aguardaram mais de 24 horas na fila, enfrentando frio e sono para tentar uma das oportunidades. De diferentes perfis, têm em comum a necessidade de conseguir um sustento e superar o efeito mais duro da recessão que o país tenta deixar para trás: o desemprego.
Na Páscoa, fui com minhas filhas fazer compras. Não tinha como comprar os ovos de Páscoa. Colocamos bombons numa cesta e demos para elas
Godofredo dos Santos
EFEITO LAVA-JATO
Aos 31 anos, Godofredo dos Santos sempre trabalhou na construção civil, mas hoje sente os efeitos da crise nas empresas do ramo. O setor foi o que mais demitiu nos últimos 12 meses, segundo dados do Ministério do Trabalho. Hoje, o desempregado, pai de duas meninas de 2 e 5 anos, tenta qualquer vaga para recompor parte do salário de R$ 3 mil que recebia no último emprego.
SALDO DE VAGAS POR SETOR
Construção civil foi o que mais demitiu nos últimos 12 meses

Se me pede para passar roupa eu passo, se for para fazer salgadinho, estamos lá, mas isso não é uma renda fixa. Hoje você tem e amanhã você não tem
Margarete Franciscano
MENOS QUE O NECESSÁRIO
Margarete Franciscano está há quase um ano em busca de um emprego fixo. Aos 52 anos, ela faz parte de um grupo de brasileiros que até consegue algum tipo de trabalho, mas gostaria para trabalhar mais horas por dia, em busca de renda melhor. É a chamada subutilização da força de trabalho, que já afeta mais de 26 milhões de pessoas.
SUBUTILIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
Número de pessoas (em milhões) que gostariam de trabalhar mais

São milhões de jovens que estão à procura de seu primeiro emprego. Para a gente que tem mais idade, fica um pouco mais difícil
Wilton Sérgio de Almeida
O PESO DA IDADE
Apesar da experiência acumulada, retornar ao mercado de trabalho não é tarefa fácil para quem tem mais idade. É o que sente o técnico Wilton Sérgio de Almeida, especializado em telecomunicações. Aos 50 anos, ele atribui à idade a dificuldade para encontrar uma vaga — uma busca que já dura sete meses. Assim como Wilton, outros brasileiros nessa faixa etária vivem esse drama. A taxa de desemprego no grupo dos que têm 40 e 59 anos saltou de 4%, no início da crise, em 2015, para 7,9% no primeiro trimestre deste ano.
TAXA DE DESEMPREGO 40 A 59 ANOS
Parcela dos desocupados nessa faixa etária deu um salto

Com 20 anos é complicado ficar desempregado, porque você acaba dependendo dos seus pais
Patrick Boumgratz
O PESO DA INEXPERIÊNCIA
Jovens, sem experiência e em busca da primeira oportunidade. É o perfil dos desempregados entre 18 e 24 anos, que já somam 4,5 milhões no país. Patrick Boumgratz chegou à fila de inscrição para vagas de emprego nessa condição. Com dois anos de serviço militar e diploma técnico em logística, não conseguia oportunidade na área. Dias depois de passar a noite na fila, o esforço foi recompensado: Patrick conseguiu uma vaga de operador de telemarketing.
TAXA DE DESEMPREGO 18 A 24 ANOS
Jovens são os mais afetados na crise

Estou desempregada há três anos e vivo de bico para sustentar a família. Estou toda enrolada com conta e dívidas, tenho que trabalhar
Ana Carla Lima
LONGA ESPERA
Ana Carla Lima dos Santos faz parte do grupo de brasileiros que enfrenta o desemprego há mais tempo. Segundo o IBGE, 2,8 milhões de pessoas buscam uma vaga há pelo menos dois anos. O principal problema para Ana Carla é pagar as despesas, já que mora de aluguel. Assim como outros, enfrenta a espera por um emprego fixo vivendo de serviços informais, como de cabeleireira.
NÚMERO DE DESEMPREGADOS (EM MILHÕES) HÁ MAIS DE DOIS ANOS
Afastamento duradouro dificulta reinserção no mercado

Declaração de Temer no G20 contrasta com indicadores e recebe críticas
A voz das ruas também mostra desacordo com a afirmação de Temer ao minimizar o atual momento

“Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados”, disse aos jornalistas.
Como se não bastasse a declaração, Temer comentou uma nova gafe. Em um vídeo na sua conta oficial no Twitter, disse que seu governo está “fazendo voltar o desemprego” no país. A frase foi dita quando o presidente falava sobre sua mensagem no encontro na Alemanha.
A visão do presidente sobre a crise não é compartilhada por economistas. “A redução do número de desempregados de 14,2 milhões para 13,2 milhões, queda de juros e a inflação sob controle, por exemplo, mostram melhora nos indicadores, mas não é possível afirmar que não existe crise. É muito cedo para isso”, rebate o economista e especialista em Finanças, Alexandre Prado.

Nem mesmo a deflação do mês passado comemorada ontem pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles é sinal de que não há crise. “A deflação, que significa queda de preço, não ocorre pela eficiência do funcionamento da economia, mas pela severidade da crise que o país atravessa”, alerta Gilberto Braga, economista do Ibmec e da Fundação D. Cabral.
Até mesmo a coordenadora de índices de preços do IBGE, Eulina Nunes — responsável pela pesquisa que mostra variação negativa dos preços de 0,23% no IPCA — credita o resultado ao momento conturbado que o país atravessa e a queda no consumo. “O país vive situação de redução acelerada da inflação em função, principalmente, da crise econômica e do desemprego, que desestimulam o consumo”, diz Eulina.
“A queda de preços verificada pela deflação não quer dizer que as pessoas melhoraram de vida. Depende do aumento do poder aquisitivo. E a média da população vem sofrendo muitas perdas nos últimos dois anos”, diz Braga.
A voz das ruas também mostra desacordo com a afirmação de Temer ao minimizar o atual momento.

“Enfrentamos uma grave crise econômica e não vejo essa baixa da inflação em praticamente nada. Ao contrário do que o presidente Temer falou no G20, estamos sim encarando uma grande crise por aqui. Os preços continuam subindo em produtos nos supermercados, conta de luz, gás e em serviços, como, de televisão, que aumentou nos últimos meses. Tudo só aumenta e pagamos cada vez mais caro”, critica Graça Almeida, 60 anos, socióloga e moradora de Santa Teresa.
Comércio fecha quase 10 mil lojas
Ao contrário do que Temer tenta passar lá fora, a crise tem impacto negativo em setores da economia, como o comércio. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), só no primeiro trimestre do ano foram fechadas 9.965 lojas no país.
A conjuntura econômica tem preocupado Marina Pereira, 34, sócia da cafeteria Fazenda Paradiso Café, na Lapa, onde também muitos empreendimentos fecharam. “A declaração do Temer não foi condizente com a realidade. Eu que tenho comércio sinto isso com a perda de clientes”, relata. E desafia: “Acho que o presidente deveria sair pelo país para ver a realidade de perto.”
Esther Dweck: Não é o fim da recessão e quadro vai piorar com reformas
De acordo com e professora de Economia da UFRJ, Esther Dweck, diferente do que diz o governo, o resultado positivo do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre não aponta para o fim da recessão. Segundo ela, não há sinal efetivo de retomada de crescimento e o cenário que se delineia é de uma estagnação em um patamar muito baixo, com efeitos negativos para o emprego e a distribuição de renda. A economista prevê ainda que a aprovação das reformas deve agravar tal quadro.

“Não é o fim da recessão de jeito nenhum. No início dos anos 2000 e em outros períodos da história do Brasil, a gente teve uma coisa que chamamos de estagnação puxada por exportações. É mais ou menos o que a gente vai viver esse ano, se de fato se configurar um crescimento positivo até o final do ano, que ainda tem chances de não acontecer”, disse, em entrevista ao Vermelho.
O IBGE divulgou que o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre. E o resultado acumulado dos quatro últimos trimestres, terminados agora em março, registra queda de 2,3%.
Segundo Esther Dweck, o resultado positivo desse começo de 2017 é “pontual”, influenciado pela boa safra agrícola e por uma mudança na metodologia do IBGE. Mas o detalhamento dos dados mostra que, pelo lado da demanda, a única coisa que de fato teve bom desempenho foram as exportações, enquanto a demanda interna continua desapontando.
O investimento caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, o consumo das famílias teve retração de 0,1% e o consumo do governo, de 0,6%. “Com o desemprego crescente, as pessoas ou estão sem renda, ou não querem gastar a renda que têm porque querem se proteger de um eventual problema mais na frente. As empresas não estão investindo nem têm nenhuma perspectiva de investir, porque estão com capacidade ociosa muito grande. Então a única coisa que sobra para quem está produzindo, é exportar, principalmente com uma safra recorde como esta. Houve, na verdade, um crescimento puxado pelas exportações, que não é capaz de puxar a economia brasileira de fato”, disse.
Na avaliação da professora, o crescimento de 1% não pode, portanto, ser associado à ação do governo Michel Temer, que relaciona a retomada atividade à recuperação da confiança na economia, algo que seria influenciado pela capacidade da gestão de aprovar as reformas.
“Foi uma coisa muito pontual, ligada a essa safra recorde, que é uma questão climática, não tem nenhuma relação com aprovação de medida ou qualquer coisa do gênero, porque a safra não sabe se o governo aprovou x ou y no Congresso, então não tem nenhum sinal efetivo de retomada”, analisou.
Na sua avaliação, o mais provável é que o país tenha um crescimento próximo de zero em 2017. “Pode ser um pouquinho positivo ou um pouquinho negativo, o que no fundo é uma estagnação. E isso é normal, porque é muito raro uma economia cair duas vezes seguidas. Três, então, só numa guerra. O mais provável é que Brasil se estabilize, mas num nível muito baixo – o que é muito ruim em termos de geração de emprego e distributivo – e fique crescendo muito próximo de zero. Não tem nenhum sinal de retomada vigorosa”, declarou.
Para a economista, ao contrário do que o governo fala, a aprovação das reformas só vai piorar esse cenário. “Porque, na verdade, [aprovar as reformas] é retirar um canal distributivo importante, que ajuda da distribuição de renda, consequentemente, no crescimento econômico e na própria proteção da economia, para situações de crise como a que a gente vive. Porque muita gente consegue ter algum auxílio e não fica sem nenhum tipo de renda, mesmo com o desemprego crescente. E com as reformas, esse colchão de proteção social vai diminuir”, lamentou.
Esther destacou que a lógica da seguridade social é justamente proteger a população em momentos de dificuldade. “Ela foi criada depois da grande crise mundial da década de 30 e depois da segunda guerra, para dizer que, se a gente não tiver um mínimo de proteção social, as economias entram em colapso. E a economia mundial só não entrou nunca mais em colapso tão profundo como na grande depressão porque passou a ter um sistema de proteção social muito forte”, disse.
Desde que o atual governo assumiu, prometia que a retomada seria liderada pelos investimentos. O resultado do primeiro trimestre contraria o discurso da gestão. E, para Esther, isso não deve mudar.
“Ninguém investe porque o governo aprovou ou não uma medida no Congresso. A pessoa investe se tiver alguém comprando o produto dela. Então, enquanto não retomar mesmo o crescimento, o investimento não vai voltar tão cedo. A gente está com uma capacidade ociosa enorme. Então o que o governo chama de investimento não é investimento, é um capital especulativo financeiro, que pode vir, sim, porque você aprovou uma reforma que protege exatamente o capital especulativo e não o produtivo”, encerrou.
“Aparentemente chegamos ao fundo do poço”, diz economista
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1% nos três primeiros meses de 2017 em relação ao trimestre anterior, após oito trimestres de retração. Apesar de o governo comemorar o que considera ser o fim da recessão, muitos não vislumbram ainda o encerramento da crise. Mais que uma recuperação sustentável, o resultado indicaria um movimento cíclico natural da economia, após recessão tão profunda. “Aparentemente chegamos ao fundo do poço”, diz o economista Bráulio Santiago Cerqueira.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a classificar este momento como “histórico”. “Depois de dois anos, o Brasil saiu da pior recessão do século”, disse, em nota. No Twitter, o presidente Michel Temer foi na mesma linha: “Acabou a recessão! Isso é resultado das medidas que estamos tomando. O Brasil voltou a crescer”, afirmou.
Para o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o PIB “reflete um conjunto de ações de política econômica que tem sido implementado (…) e, em particular, o avanço das reformas econômicas no Congresso”.
Os números, no entanto, não justificam o otimismo oficial. O próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi ponderado e avaliou que “ainda é cedo para falar em saída da recessão”.
“É preciso esperar um pouco para ver o que vai acontecer este ano. A gente teve crescimento no trimestre, mas foi sobre uma base muito deprimida. Se olharmos no longo prazo, ainda estamos no mesmo nível de 2010”, disse a coordenadora de contas nacionais do órgão, Rebeca Palis.
O crescimento foi puxado, principalmente, pelo bom resultado da agropecuária, que teve expansão de 13,4%, e do comércio exterior, com as exportações subindo 4,8%. A indústria cresceu um tímido 0,9%, e os serviços registraram estabilidade. Os investimentos e o consumo das famílias sofreram contração no trimestre, respectivamente 1,6% e 0,1%. Apesar do crescimento da economia na comparação com o trimestre anterior, o PIB recuou 0,4% em relação ao primeiro período do ano passado.
O economista Bráulio Santiago Cerqueira avalia que os números do PIB para o primeiro trimestre já eram esperados por analistas. Mas destaca que, mesmo que a economia se recupere ao longo de 2017 crescendo, por exemplo, 1,0% em 12 meses – as previsões hoje apontam uma ampliação de 0,5% para o ano –, a economia não chegará sequer a atingir o nível que tinha em 2011, diante do tombo provocado pela recessão nos últimos anos.
“As quedas do PIB acumuladas nos últimos anos fizeram a economia brasileira voltar a um ponto entre 2010 e 2011. Então, mesmo se a economia crescer o dobro do que apontam as expectativas, ela não vai ter chegado ao nível sequer de 2011. Ou seja, tem que levar em conta a gravidade da recessão”, diz.
Cerqueira ressalta ainda que o resultado positivo do trimestre não anula outros números negativos. Considerando os 12 meses terminados em março deste ano, o PIB brasileiro recuou 2,3% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.
“Então continua caindo na base anual. De fato, na margem, houve esse pequeno crescimento, muito associado à safra de grãos. E eu diria que o fator mais importante do ponto de vista da demanda para esse resultado foi o setor externo. O consumo não recuperou e o investimento não recuperou”, reiterou, chamando atenção para o fato de que a taxa de investimento – que é o total de investimento da economia sobre o produto – encontra-se hoje no valor mais baixo de toda a série histórica do IBGE, que começa em 1995: 15,6%.
De acordo com ele, o resultado positivo, portanto, tem pouco a ver com a política econômica praticada pela atual gestão. “Eu não associaria essa recuperação na margem da economia brasileira àquilo que o governo enfatiza, que seria um choque de confiança proporcionado pela política econômica que seria agora mais responsável. Os números não mostram isso”, defende.
O economista diz que o bom desempenho do setor externo, é fruto principalmente da desvalorização do câmbio, que ocorre desde 2015, e da depressão do mercado doméstico. “É a situação de contração da demanda interna, é natural. As empresas, os exportadores de produtos primários, se voltam mais para o mercado externo. Se você não vende aqui dentro, então você tenta vender para quem tem poder de compra no exterior.”
Para ele, mais realista do que falar em volta do crescimento, é afirmar que o país pode estar em estagnação, parando de afundar. “O que podemos falar que está acontecendo é menos algo que aponta para um crescimento sustentável e para a recuperação de uma trajetória mais dinâmica da economia e mais que a gente chegou ao fundo do poço. Aparentemente, não dá para cavar mais fundo. Melhor que falar em recuperação, a gente pode dizer com mais cautela que a economia está parando de afundar. Estamos entrando em uma estagnação depois da depressão, tenderia mais a isso”, afirma.
Segundo Cerqueira, o fato de que a economia possa estar “parando de afundar” é algo natural, próprio dos movimentos cíclicos da economia. “Como você tem um consumo e um investimento muito reduzidos, qualquer sopro que a gente experimente causa um efeito estatístico positivo. Era normal que esse momento um dia chegasse. Mas tem que ver qual será a intensidade de uma possível recuperação que ainda está para se confirmar”, pondera.
O economista não crê que, com a atual política econômica, vá haver uma recuperação robusta. “O movimento cíclico natural da economia, independente da política econômica, aponta, sim para alguma recuperação. Mas a política econômica podia ajudar mais, acelerando o ritmo de queda da taxa de juros – não só da taxa de juros básica, mas para o crédito em geral dos bancos, os spreads – e na recuperação do investimento público e do próprio gasto público, que na verdade estão comprimidos pelas regras fiscais que a gente tem. Em razão desses fatores, não acredito em uma recuperação intensa da economia”, conclui.
Fonte: Vermelho
IBGE: Taxa de desemprego alcança 14,2 milhões de pessoas
 IBGE: Taxa de desemprego alcança 14,2 milhões de pessoas – Foto: Joedson Alves/Estadão
IBGE: Taxa de desemprego alcança 14,2 milhões de pessoas – Foto: Joedson Alves/EstadãoDe acordo com novos dados divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego alcança uma série histórica e chega a 14,2 milhões pessoas
A taxa de desemprego no Brasil bateu o recorde histórico, segundo os dados divulgado na manhã desta sexta-feira (28), pelo IBGE. São 14,2 milhões de pessoas desempregadas, na apuração de janeiro a março. São os maiores índices desde que o cálculo começou a ser feito em 2012.
Na avaliação anterior do IBGE, encerrada no mês de fevereiro, o número de desempregados era de 13,5 milhões de pessoas.
No segundo trimestre de 2016, a taxa de desemprego no país estava em 10,8%, ou seja, em 12 meses ocorreu uma alta de 2,9 pontos percentuais. Neste mesmo período, o volume de pessoas em busca de uma ocupação teve um acréscimo de mais de 3,1 milhões de desempregados.
Número de inadimplentes no Brasil cai em abril, mas segue perto de 40% dos adultos, dizem SPC Brasil e CNDL
O indicador ainda mostrou queda no volume de dívidas em nome de pessoas físicas na comparação com o mesmo mês de 2016.
Quase 40% da população adulta brasileira está inadimplente, de acordo com estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
As duas entidades calculam que um total de 59 milhões de pessoas físicas estavam com as contas atrasadas no país no final de abril, número que representa 39,19% da população com idade entre 18 e 95 anos.
Apesar de ainda elevado, o mês de abril mostrou uma leve queda no número de inadimplentes, de 1,6% na comparação com igual período de 2016 e de 0,35% frente ao mês anterior.
De acordo com o SPC Brasil e a CNDL foi a segunda vez, desde o início da série histórica em 2010, que houve uma queda anual.
“O consumidor tem tido maior cautela com o consumo, além de maior dificuldade para conseguir crédito. Assim, ele se endivida menos e, com isso, torna-se mais difícil ficar inadimplente”, disse o presidente da CNDL, Honório Pinheiro.
De acordo com a estimativas das entidades, a região Sudeste é a que concentra, em termos absolutos, o maior número de inadimplentes do país, somando 24,90 milhões de consumidores, equivalente a 38,17% da população adulta da região. Na sequência, aparecem o Nordeste e o Sul do país.
Por faixa etária, a maior frequência de pessoas com contas em atraso é a daqueles entre 30 e 39 anos – em abril metade dessa população (49,83%) estava com o nome incluído em listas de proteção ao crédito, um total de 17 milhões de pessoas.
O indicador do SPC Brasil e da CNDL ainda mostrou queda de 7,13% no volume de dívidas em nome de pessoas físicas na comparação com o mesmo mês de 2016.
O levantamento apontou também que os bancos concentraram em abril a maior parte das dívidas no país, com 48,36% do total, seguidos pelo comércio (20,26%) e o setor de comunicação (13,51%).
/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/09/18/inadimplencia.jpeg)
Inadimplência (Foto: Reprodução Globo News)
Foto: G1
Crianças ficam mais pobres, e desemprego entre jovens ultrapassa 30%

— A conjuntura econômica piorou. Famílias com crianças dependem essencialmente do mercado de trabalho, que está muito ruim. E os benefícios voltados para as crianças são mais restritos e mais baixos que os para idosos — afirma Sonia.
As escolas — o caminho para ter uma chance de vida melhor — são pouco atraentes e acabam afastando os adolescentes, na avaliação do movimento Todos pela Educação. Dos 2,8 milhões de crianças e jovens que estavam fora da escola em 2015, 60,8% tinham entre 14 e 17 anos. E a taxa de frequência de quem tem 17 anos é de 74,3%. Inferior à presença de crianças de 4 anos (77,3%).
Quando deixam a escola para enfrentar o mercado de trabalho, a dificuldade aumenta. Na faixa de 14 a 24 anos, a taxa de desemprego já ultrapassou os 30%, o dobro da taxa média da força de trabalho, de 13,7%, no primeiro trimestre do ano. Há 1,265 milhão de adolescentes de 14 a 17 anos procurando trabalho, quase 10% do total de 14 milhões de desempregados. Uma faixa etária que deveria estar apenas nos bancos escolares e não na fila do desemprego. A taxa de desocupação para eles é de 45,2%, o dobro de antes do início da recessão, nos primeiros meses de 2014.
Especialistas em mercado de trabalho apontam duas razões para essa explosão nas taxas: o desemprego dos pais acaba empurrando os jovens para o mercado e a falta de experiência e de capacitação dificulta ainda mais a contratação.
— Quando vão dispensar, os escolhidos são os jovens, que têm menos experiência e vão fazer menos falta no processo produtivo. Se for estagiário ou aprendiz, os custos de demissão também são menores. O problema é que, ao mesmo tempo em que as portas se fecham, muitos precisam se lançar no mercado para ajudar a família. É uma minoria que pode, em tempos de crise, aproveitar a falta de oportunidades para investir em formação — afirma Maria Andreia Parente Lameiras, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
E a violência fecha o cerco em torno dessa população. Na média, há 29 homicídios para cada cem mil habitantes. Em países desenvolvidos, ficam entre 0,5 e 1 por cem mil. Na população de 15 a 29 anos, a taxa é de 60 por cem mil. Se forem homens, quase dobra: 113 mortes por cem mil.
— Em todo o mundo, os homicídios são maiores nessa faixa etária. O jovem é o ator principal sofrendo e cometendo crimes. O que difere no Brasil é o patamar. E o pico da taxa era aos 25 anos, hoje é aos 21. Estamos matando nossos jovens cada vez mais jovens — afirma Daniel Cerqueira, economista e especialista em segurança pública do Ipea.
Em busca de uma vaga desde os 14 anos
Morreram assassinados 318 mil jovens de15 a 29 anos entre 2005 e 2015, de acordo com os dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Somente em 2015, houve 31.269 mortos. Apesar de significar cerca de 86 homicídios por dia, é um número menor que os 32.436 mil de 2014.
A família de Sabrina Graziele Coelho, de 35 anos, está sofrendo todos os efeitos da crise. Casada com Francinei Lopes da Silva, e mãe de Davi, de 15 anos, Beattriz, de 14 anos, e Cauã, de 9 anos, Sabrina perdeu o emprego em abril. O marido, em outubro. A renda minguou. Só sobrou o Bolsa Família, de R$ 202, que não dá para alimentar a família de cinco pessoas.
— Minha filha fica na escola o dia inteiro e agora está dormindo na casa da minha mãe. Davi está na casa da minha irmã. Eu só almoço. Pulo o café da manhã e o jantar. Muitas vezes, venho para a casa da minha mãe, que reúne toda a família. Aqui sempre tem comida — diz Sabrina na casa da mãe numa comunidade na Zona Norte.
Logo que saiu do emprego de cuidadora de um idoso, que morreu em abril, Sabrina comprou bijuterias para revender e conseguir comprar uma coisa ou outra que falta para os filhos e remédios. O cabelo do marido e do filho, ela mesmo corta:
— A escola não dá uniforme, e Davi só tem uma camisa. O frio vai aumentar, e preciso comprar outra camisa de manga comprida. Também falta material escolar. A escola não tem dado. Mas minha família ajuda muito. Um sempre dá apoio ao outro.
Produtividade ainda menor
Thamires Oliveira de Souza, de 18 anos, cresceu sonhando em cursar enfermagem, mas procura emprego desde os 14 anos. O pai é um pedreiro desempregado há dois anos e a mãe, empregada doméstica. Aluna do 3º ano do ensino médio de uma escola pública, procura estágio para tentar ajudar a pagar os cursos que vem fazendo para entrar em uma universidade pública. O pai faz bicos para custear um curso pré-vestibular e um básico de administração para a filha:
— É difícil não ter experiência, ter de estudar e procurar um trabalho ao mesmo tempo. Estou tentando vaga de estágio porque o dinheiro dos meus pais já está acabando e preciso me manter nesses cursos. Além de as vagas serem escassas, quando aparece algo, não casa com o horário das minhas aulas, é muito longe de onde moro ou pede inglês intermediário, que não tenho. Enquanto isso, cortamos qualquer luxo. Nada de comprar roupa ou calçado. Não podemos fazer dívida.
Para Maria Andreia, portas fechadas para jovens que precisam custear os próprios estudos podem comprometer a formação.
— Vai afetar a especialização de muitos adolescentes que têm como condição para a entrada na universidade ter um emprego — avalia.
Os impactos negativos na economia e na própria trajetória profissional desses jovens são inevitáveis, observa Bruno Ottoni, pesquisador na área de mercado de trabalho do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV):
— Quanto mais tempo uma pessoa fica sem emprego, mais ela demora para se inserir novamente no mercado. Quando falamos do primeiro emprego, isso é ainda mais grave. Atrasa a aquisição de experiência. Os anos vão passando, eles ficam mais velhos e sem experiência. Fases de desemprego alto e longos, como o que vivemos hoje, tornam mais precário o capital humano e fazem a produtividade média do trabalhador brasileiro, que já é baixa, cair ainda mais.
Ottoni avalia que a falta de formação dos recursos humanos pode atrasar a reação da atividade econômica.
— Vamos nos tornando menos produtivos, e a retomada da economia demora ainda mais. É uma condição que cria um círculo vicioso — afirma.
A educação para Sabrina é imprescindível. Os filhos nunca repetiram de ano na escola, e a filha Beattriz é medalhista de ouro de xadrez.
— Aqui em casa, ninguém pode tirar menos de 7. Davi está estudando à noite para tentar uma vaga de aprendiz durante o dia, mas ninguém contrata antes dos 16 anos — diz Sabrina.
Davi engrossa o universo de adolescentes desempregados, mas a formação está encaminhada. Não foi o caso de Sabrina. Trabalhando desde os 14 anos, concluiu o ensino médio e chegou a conseguir bolsa para cursar Gestão Ambiental:
— Mas não consegui cursar.
Na sala da casa da mãe, LPs antigos do irmão de Sabrina enfeitam a parede. É uma lembrança, pois ele morreu há 27 anos, assassinado aos 17:
— Meu filho mais velho fica na casa da minha irmã, onde há mais atividades oferecidas pela igreja. Ele faz luta, computação, toca teclado. Não está ocioso. Às vezes, os meninos veem que está faltando coisa dentro de casa, e o dinheiro é fácil lá fora.
Fonte: Extra
Crise e excesso de oferta deixam prédios comerciais vazios em SP e no Rio
Mercado de escritórios registra vacância recorde e preços caem para valores de 2010. Empresas aproveitam descontos para migrar para prédios melhores.
Alugam-se. Muitas salas. Andares inteiros. E até o prédio todo. A quantidade de espaços vazios em edifícios de escritórios aumentou e a taxa de vacância nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro atingiu patamar recorde, segundo os indicadores das principais consultorias e empresas de pesquisa imobiliária corporativa.
Em meio ao prolongamento da crise econômica e ao boom de novos empreendimentos, o percentual de imóveis comerciais não ocupados saltou de 3,56% em 2010 para 17,47% em 2016, segundo monitoramento da Buildings. No Rio, o índice passou em 7 anos de 2,03% para 18,8%.
Já nos espaços corporativos de alto padrão ou classe A, categoria que reúne os prédios com melhor infraestrutura e com lajes de até mais de 2 mil metros quadrados por andar, a taxa de vacância é ainda maior. De acordo com a Buildings, o índice fechou 2016 em 23,42% em SP e em 38,33% no Rio.
“Com crise ou sem crise, há excesso de oferta. Esse é o ponto”, resume o diretor da Buildings, Fernando Libardi. Ele explica que a quantidade de espaços vagos de alto padrão passa de 600 mil metros quadrados no Rio de Janeiro e de 860 mil metros quadrados em São Paulo. Em 2012, a vacância era de 280 mil m² em SP e de 52 mil m² no Rio.
‘Cartão postal’ para alugar
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/A/L/BC2iP2Q1iT1obgF5dppg/victormalzoni-fabio-tito-g1-2017-03-10-32a7687.jpg)
No edifício Pátio Victor Malzoni, na Av. Faria Lima, onde fica a sede do Google, o bloco da esquerda é visto quase completamente apagado por volta de 19h30 de um dia útil; a recepção informa que apenas os 3 últimos andares estão ocupados. (Foto: Fábio Tito/G1)
Entre os prédios que continuam com vacância elevada estão megaempreendimentos e vários dos novos “cartões postais” da capital paulista como o Pátio Victor Victor Malzoni (o da casa bandeirista), que ocupa um quarteirão na Avenida Faria Lima e foi anunciado em 2102 como a mais cara de São Paulo
Também estão com grandes espaços vagos o edifício Tower Bridge, ao lado da Ponte Estaiada, no Brooklin, o complexo corporativo do shopping JK Iguatemi, no Itaim, e a recém-concluída Torre Sul do São Paulo Corporate Towers, também no Itaim, que ainda não ocupou nenhum dos seus 30 andares.
O G1 pediu para visitar os espaços disponíveis nestes prédios, mas os proprietários ou administradores não autorizaram e não quiseram comentar o ritmo de ocupação nestes empreendimentos.
A EZ Towers foi a única que autorizou fotos no interior do empreendimento e dos espaços vazios. Na Torre B, inaugurada no ano passado, a área ocupada ainda é inferior a 60%. Por enquanto, são apenas 2 inquilinos: Amil e Coca-Cola.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/w/l/wKEsgTT3eZ4peBLH65cw/06-eztower-fabio-tito-g1-32a1236.jpg)
Sala vazia no edifício EZ Tower – torre B, na Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo (Foto: Fábio Tito/G1)
Ainda que a vacância seja um assunto tabu para as incorporadoras e investidores, as placas de aluga-se, os letreiros vazios nas recepções e os andares às escuras nos prédios dão uma dimensão do tamanho do encalhe.
O grande número de espaços vazios reflete o descompasso entre a aposta dos investidores e a evolução da atividade econômica do país. Muitos dos prédios ociosos começaram a ser erguidos no começo da década de 2010, quando a economia brasileira ia bem, havia uma demanda crescente novos escritórios, pouca oferta e preços de aluguel em alta. Como as construções costumam levar de 5 a 6 anos, muitos prédios erguidos em meio à euforia desenfreada do setor imobiliário acabaram ficando prontos em plena recessão.
Rio de Janeiro
No Rio, a estimativa dos analistas é de que a taxa de vacância possa aumentar em, pelo menos, 6% ao término do primeiro trimestre deste ano. O aumento será puxado pela devolução dos dois edifícios antes ocupados pela Petrobras, além da entrega do Passeio Corpore – centro empresarial que conta com três torres integradas e um mall – no Centro.
Olhando de fora, o Passeio Corpore está totalmente desocupado. O edifício ainda passa por obras no térreo, embora a informação da Construtora Dominus indique 100% de finalização do projeto. A administração do empreendimento é do Banco Opportunity, que até a publicação desta reportagem não respondeu aos questionamentos do G1.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/s/h/xdz6UmTbA2UIvujE2H2g/passeio-5-.jpg)
Edifício no Rio de Janeiro (Foto: Daniel Silveira / G1)
Outro gigante de alto padrão que, segundo fontes do mercado, segue completamente vazio na região Central do Rio é o Eco Sapucaí. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ele está localizado ao lado do Sambódromo e tem classificação AAA (triple A).
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/e/r/drXhjASVmQznGV9BNKOg/eco-1-.jpg)
Edifício Eco Sapucaí, no Rio de Janeiro (Foto: Daniel Silveira / G1)
Com quase 5 mil metros quadrados, 17 pavimentos e heliporto, o Eco Sapucaí chegou a ser cotado pelo governo do estado para sediar todos os órgãos estaduais no mesmo local. A penúria financeira impediu que o intento fosse levado adiante.
Já a Zona Portuária do Rio, que sofreu intenso processo de revitalização em função da realização da Olimpíada, era apontada pela prefeitura como principal aposta para instalação de um novo polo empresarial na cidade. O primeiro grande empreendimento construído na região foi o Port Corpore Tower.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/B/O/pufyI0SEi7Rp4pXWeyhA/port-1-.jpg)
Port Corpore Tower, no Rio de Janeiro (Foto: Daniel Silveira / G1)
À época de sua inauguração, em 2014, o então prefeito Eduardo Paes disse que se tratava do “primeiro presente que a cidade ganha nessa revitalização”. Até hoje, segundo fontes do mercado, ele segue ocupado apenas pela empresa que o construiu – a Tishman Speyer, responsável por empreendimentos como o Rockfeller Center, em Nova York, e CBX Tower, em Paris.
Devoluções de espaços
O professor da Poli/USP e especialista em mercado imobiliário João da Rocha Lima Junior, destaca que o número de devoluções também contribui para a vacância ser recorde. “A economia retraída provocou uma não demanda e o aumento dos espaços vazios por causa das movimentações das empresas, seja para reduzir espaço, seja para fazer migração”, afirma.
Com a crise, muitas empresas acabaram reduzindo o quadro de funcionários, fechando escritórios e até mesmo devolvendo andares ou prédios inteiros. A Petrobras, por exemplo, concluiu em fevereiro a devolução de 2 prédios inteiros no Centro do Rio de Janeiro – os edifícios Torre Almirante e Castelo – em meio à reestruturação e enxugamento impostos após a detonação da operação Lava Jato. “A força de trabalho foi transferida para prédios já em uso pela Petrobras e não houve locação de área nova”, explicou a estatal, em nota.
Segundo os dados da Buildings, o mercado total de imóveis comerciais registrou no ano passado, pela primeira vez desde 2010, absorção líquida (balanço entre espaços ocupados e devolvidos) negativa tanto no Rio (-29 mil m2) como em São Paulo (-84 mil m2). Ou seja, a área total devolvida superou a área contratada para ocupação.
Com a virada do mercado, as construtoras e incorporadoras colocaram o pé no freio e interromperam os lançamentos. Em 2016, o volume de área corporativa em construção somou cerca de 650 mil m² em São Paulo, caindo para cerca de metade da média dos anos anteriores.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/5/J/gPsmTHTdWLoXuQuUK1dw/03-eztower-fabio-tito-g1-32a1239.jpg)
Sala vazia no edifício EZ Tower – torre B, na Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo (Foto: Fábio Tito/G1)
O PIB (Produto Interno Bruto) da construção civil como um todo no país caiu 5,2% em 2016, segundo o IBGE, contribuindo para a pior recessão da história do Brasil. Em 2015, o setor já havia recuado 6,5%.
“O setor imobiliário tem enfrentado uma situação sem precedentes de devolução de imóveis, com penalidades aplicadas aos incorporadores que, neste momento, colocam em pausa qualquer programa de novos investimentos que possibilitam retomada da atividade econômica e do emprego no curto prazo, afirma Emílio Fugazza, diretor financeiro e de relação com investidores da Eztec.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/s/V/fuNHTHQJy6CbCosaKhBw/centralvilaolimpia-fabio-tito-g1-2017-03-06-32a1224.jpg)
No edifício Central Vila Olímpia, em São Paulo, 7 dos 14 andares ainda não estão totalmente ocupados (Foto: Fábio Tito/G1)
Risco de bolha mais à frente
Segundo pesquisa da Cushman & Wakefield, está prevista para 2017 a entrega de mais 203 mil m² de espaços corporativos de alto padrão em São Paulo e de mais 175 mil m² no Rio.
Pelas previsões dos analistas, as taxas de vacância em SP e no Rio devem começar a cair a partir de 2018, na medida em que também deve recuar significativamente o volume de construções e entregas.
“2017 é o fundo do vale. A partir de 2018 deveremos estar em recuperação dos preços de aluguéis”, avalia Lima Junior. O professor da USP alerta, entretanto, para o risco de uma disparada nos preços a partir de 2020 caso não ocorra desde já uma nova leva de lançamentos.
“Os investidores nesse momento estão totalmente recuados. Sem novos projetos, quando chegar 2021, 2022 vai ter uma demanda forte e não vai ter oferta. E é muito provável que os aluguéis sofram uma bolha”, afirma.
Um novo ciclo de expansão imobiliária só é esperado para a partir de 2022, após a absorção do atual estoque. Construtoras e incorporadoras vem cobrando uma regulamentação sobre a questão do distrato após a compra de imóveis de forma a conter as compras puramente especulativas e permitir maior segurança jurídica para a retomada de lançamentos e vendas.
“Por enquanto, perde também o consumidor, que sem contar com novos produtos em lançamento, verá os estoques diminuírem e uma possível elevação de preços nos próximos anos”, afirma Fugazza, da Eztec.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/B/c/DLkj9PShyK8hBpb6Tzxw/centralvilaolimpia-fabio-tito-g1-2017-03-06-32a1087.jpg)
Letreiro na recepção do Centrral Vila Olímpia indica os andares que ainda não foram ocupados (Foto: Fábio Tito/G1)
O gerente de pesquisa e inteligência de mercado da Cushman & Wakefield, Gustavo Garcia, prevê que o mercado deva voltar a uma situação de maior equilíbrio entre oferta e procura somente a partir de 2020 e recomenda cuidado e planejamento para as empresas que decidiram aproveitar o momento favorável para dar um upgrade no escritório.
“Dependendo do tempo do contrato, os inquilinos precisam prestar atenção na curva de volta do mercado”, alerta o especialista, citando o risco de daqui a alguns anos as empresas não conseguirem renovar os aluguéis pelo preço desejado e terem maior dificuldade de barganhar ou encontrar outra opção.
Ele explica que a partir de uma ocupação de 50% um empreendimento corporativo já costuma operar sem prejuízo e que, com a desaceleração do ritmo de novas entregas e retomada da economia, a tendência é de redução dos descontos e alta dos preços, mesmo em meio a uma vacância ainda acima do chamado ponto de equilíbrio – algo entre 10% e 15%.
“Não temos mais um grande volume de prédios em construção. A partir de 2020, não teremos mais prédios inteiros vazios. Então, o inquilino terá mais dificuldade para mudar”, afirma Garcia.
Ou seja, os descontos de hoje podem acabar sendo pagos pelos inquilinos de amanhã.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/n/A/pn3aZcSJ287XUlB2oFZA/eztower-fabio-tito-g1-32a1392.jpg)
Na Torre B da EZ Tower, inaugurada no ano passado, Amil e Coca-Cola são os únicos inquilinos até o momento (Foto: Fábio Tito/G1)
Fonte: G1
Com crise, desigualdade no país aumenta pela primeira vez em 22 anos
Com crise, desigualdade no país aumenta pela primeira vez em 22 anos
— Além do aumento do desemprego, tem a inflação corroendo a renda média. O desemprego se tornou sério porque aumentou, mas também porque é de longa duração. A pessoa fica desempregada e demora a sair da situação — analisa o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Segundo Neri, o aumento na desigualdade registrado no ano passado preocupa principalmente porque o bolo a ser dividido não só encolheu, mas murchou para os mais pobres. Além do custo social, o economista observa que os efeitos sobre esse grupo são muito ruins para a economia, pois os mais pobres comprometem a maior parte da renda com consumo. Eles são, portanto, parte importante na demanda que tanto se espera destravar para que a atividade econômica brasileira volte a crescer.
— Estamos andando para trás em justiça social. Em 2015, apesar de o índice de Gini ter ficado estável, a renda dos 5% mais pobres já havia caído 14%, e a pobreza, aumentado 19,3%. O resultado de 2016 penalizando este grupo novamente é uma desgraça. Se os mais pobres estão perdendo mais, as empresas vendem menos. A queda do consumo é mais forte quando a desigualdade aumenta. Programas voltados aos mais pobres, como o Bolsa Família, têm um impacto multiplicador sobre a demanda da economia três vezes maior que o da Previdência ou o do FGTS — exemplifica o diretor da FGV Social.
MAIS POBRES SÃO OS MAIS PENALIZADOS
Manuel Thedim, economista do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets), não se surpreende com esses dados:
— Quem perde o emprego primeiro na recessão são os mais pobres e menos escolarizados, logo, o de menor produtividade. Um economista, na década de 1950, conseguiu comprovar que renda, escolaridade e produtividade têm uma correlação forte. Quem tem mais anos de estudo terá mais renda do que quem tem menos anos de estudo. Se o desemprego tivesse atingido os mais ricos, a desigualdade teria caído.
Ele lembra que, quando esse trabalhador consegue uma recolocação em meio à crise, é em uma ocupação inferior:
— São pessoas que vão deixar, por exemplo, de ser vendedores de sapato e, para sobreviver, vão virar ambulantes. Além do desemprego, há a perda da qualidade do posto de trabalho para um grande grupo.
Marcelo Lima de Carvalho, de 34 anos, é um desses cidadãos afetados pela queda na renda. Desempregado há quatro meses, o morador do Caju, Zona Norte do Rio, mantém a rotina de sair de casa às 5h30m, como quando trabalhava como garçom.
— Minha mulher está empregada, mas tivemos que cortar pela metade quase todas as coisas lá em casa. Cortamos TV a cabo, plano de saúde. Procuro emprego todos os dias. Passo o dia todo na rua, só paro de procurar alguma coisa lá pela 18h. Fiquei sem dinheiro, dependo dos bicos que as pessoas me arrumam, como pintor. Nessa crise, a gente aceita o que vier. Na minha família, meu primo e meus irmãos também estão sem emprego — comenta.
Com a taxa de desemprego em 12,3%, atingindo 12,6 milhões de pessoas, difícil é não conhecer alguém nessa situação. E, quando a falta de emprego atinge um membro da família, não apenas o desempregado é afetado, mas toda a casa sente as consequências.
— Minha irmã trabalhava em limpeza e perdeu o emprego há dois meses. Ela mora comigo, meu irmão e minha mãe. Sem o salário dela, ficamos sem uma renda em casa, e isso impactou muito a ajuda à minha mãe, que tem muitos problemas de saúde — conta Pierre de Oliveira Rodrigues, de 31 anos, que trabalha em suporte técnico.
BEM-ESTAR CAI HÁ DOIS ANOS
Para piorar o cenário, o indicador de bem-estar medido pela FGV Social, que observa os efeitos do crescimento da renda, do somatório geral e a dinâmica da sua divisão junto às diferentes classes, cai há dois anos.
— A crise se instalou no mercado de trabalho e no bolso do brasileiro no fim de 2014. No primeiro ano, a queda de renda puxou a piora do bem-estar, pois a desigualdade ficou estável. Já a partir de 2016, a perda se dá nas duas pontas: o bolo de renda cai e atinge mais fortemente os pobres — explica Neri.
Mas há uma boa notícia, ressalta o economista da FGV Social. Apesar do aumento forte da desigualdade em todos os trimestres de 2016, a queda na renda média real vem desacelerando. Nas contas de Neri, no último trimestre do ano passado, a renda média registrou, em relação ao mesmo período de 2015, a oitava queda seguida. No entanto, a variação do recuo já havia caído pela metade em relação ao segundo trimestre de 2016. Enquanto no período de abril a junho, a renda encolheu 6%, em relação aos mesmos três meses de 2015, no quarto trimestre de 2016, a queda foi de 2,8%.
— A queda da renda está perdendo força. Ainda não está no azul, mas está convergindo para uma estabilidade, ainda este ano, porque a inflação está desacelerando — completa Neri.
Pouco mais de um ano foi o tempo suficiente para Rosimaria Rodrigues de Santana Amorim deixar o programa Bolsa Família. Há quase uma década, ela deu “baixa” no cartão porque conseguiu emprego como auxiliar de serviços gerais. O marido, Wagner Amorim, também passou a trabalhar de ajudante de pedreiro com carteira assinada. A renda do casal que mora em Planaltina de Goiás, mais conhecida como “Brasilinha” devido à proximidade de 60 km com a capital federal, permitiu financiar uma casa popular, comprar móveis modestos, ter eletrodomésticos e fazer um agrado vez por outra para os dois filhos, que adoram pizza e sonham com um tablet.
Após o nascimento do mais novo, Enzo, de três anos, que tem crises de asma e fica frequentemente internado, Rosimaria saiu do emprego para cuidar do menino. O setor de construção e reforma ainda estava em alta e o salário do marido, em torno de R$ 1 mil, era suficiente para as necessidades da casa. Em 2014, porém, a firma onde Wagner trabalhava fechou. A família continuou vivendo dos bicos que ele arranjava com frequência. Mas, no fim do ano passado, até os serviços temporários sumiram. O jeito foi recorrer novamente ao Bolsa Família.
— Nunca pensei que a gente ia passar por essa situação. A crise chegou mesmo aqui em casa. O Bolsa Família é a nossa única renda desde setembro — conta Rosimaria.
Apesar da perplexidade, Rosimaria não está sozinha. No Brasil, mais de meio milhão de famílias que haviam saído do Bolsa Família até 2011 reingressaram no programa apenas no ano passado. Foram, mais exatamente, 519.568 retornos em 2016. O número é superior ao de 2015, quando houve o primeiro salto, com a reinclusão de 423.668 famílias. Antes disso, o movimento de volta ao programa era bem menos intenso: 104.704 famílias em 2014, 186.761 em 2013 e 164.973 em 2012, segundo dados inéditos do Ministério do Desenvolvimento Social obtidos pelo GLOBO.
Para o sociólogo Elimar Nascimento, professor da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador na área de políticas públicas e desenvolvimento sustentável, a explosão do desemprego a partir de 2015 é o principal responsável pelo retorno da população à pobreza.
— Nos últimos dois anos de recessão, o desemprego explica por que as pessoas estão voltando ao Bolsa Família, que é um paliativo, não resolve o problema da pobreza. Só com a retomada do crescimento esse movimento pode ser superado, não existe mágica a ser feita — afirma o pesquisador.
Os dados gerais, sem distinção entre quem já foi ou não beneficiário do programa, mostram que a demanda pelo Bolsa Família cresceu 33% nos dois últimos anos. Em 2015, 1,2 milhão de famílias foram habilitadas a receber o benefício por atender aos requisitos de baixa renda, ou 105 mil famílias por mês. Em 2016, a média mensal bateu 141 mil, totalizando 1,6 milhão de famílias cadastradas ao longo do ano.
A fila de espera para o Bolsa Família chegou a janeiro deste ano com 463,9 mil famílias. Na última semana do mês, o governo anunciou ter conseguido incluir quem aguardava. O saldo de habilitados hoje conta com 1.898 famílias.
Essa diminuição significativa da fila só foi possível por causa do pente-fino feito no segundo semestre do ano passado e o reforço nas fiscalizações de rotina, que culminaram no desligamento de milhares de famílias do programa. Ao longo de 2016, 3 milhões de famílias tiveram o benefício cancelado, por não atender aos requisitos exigidos, ao mesmo tempo em que 2,4 milhões foram contempladas. Por isso, sem aumentar a cobertura de 13,5 milhões de famílias atendidas no total, o governo chegou perto de zerar a fila.
O governo estuda dar um reajuste no benefício com base na inflação medida entre julho de 2016 e julho de 2017, que deve oscilar de 4% a 5%. O valor médio pago às 13,5 milhões de famílias atendidas hoje — que reúnem cerca de 50 milhões de pessoas — é de R$ 182. A quantia pode ser maior ou menor conforme a renda da família, o número de dependentes, entre outros fatores.
Com o benefício mensal de R$ 341 que recebem do programa, Rosimaria, de 30 anos, e Wagner, de 25, se desdobram para pagar as contas básicas, como água e luz. A família recebe ajuda de parentes para a alimentação. A mulher até brinca com o fato de há meses não frequentar um supermercado:
— Acho que vou até me perder quando entrar num mercado de novo. Minha despensa hoje só tem o básico e tudo é dado pelos parentes.
A preocupação maior do casal, no momento, é garantir o pagamento do financiamento da casa popular que compraram num programa habitacional do governo. O pai de Wagner, pensionista, auxilia como pode. Mas a 55ª e 56ª parcelas — de um total de 300 — devidas para a Caixa Econômica estão atrasadas. O valor da prestação é de aproximadamente R$ 500. Com o extrato nas mãos, Wagner explica por que a dívida tira o sono dele:
— Se atrasar três parcelas, tomam a casa da gente. Eu nunca passei por um tempo tão difícil para arranjar serviço.
Se a casa se tornou a maior preocupação do casal, ela é o motivo de eles não terem retornado para Socorro do Piauí, cidade natal dos dois.
— A gente lutou tanto para ter essa casa que a gente não quer deixar isso para trás — diz Rosimaria.
Rosa por fora e verde por dentro, a habitação de três quartos é modesta mas confortável. A cobertura de cerâmica do piso do quintal está pela metade. Depois que o orçamento apertou, Wagner não teve como comprar a argamassa. Na janela de um dos quartos, repousam as botas encardidas usadas para trabalhar em obras.
— Já faz tempo que estão aí, paradas — comenta Wagner, com ar desolado.
Fonte: Extra
Banco Mundial: Crise pode levar 3,6 milhões de brasileiros de volta à pobreza
São consideradas abaixo da linha de pobreza pessoas que vivem com menos de R$ 140 por mês
A crise econômica poderá levar até 3,6 milhões de brasileiros para abaixo da linha de pobreza até o fim do ano. A estimativa é do Banco Mundial, que divulgou estudo referente ao impacto da recessão sobre o nível de renda do brasileiro. A projeção considera que a economia encolherá 1% no segundo semestre de 2016 e no primeiro semestre deste ano (ano-fiscal 2016/2017).
Num cenário mais otimista, que prevê crescimento de 0,5% da economia nesse período, o total de pobres subiria em 2,5 milhões, segundo o Banco Mundial.
Pelos critérios do estudo, são consideradas abaixo da linha de pobreza pessoas que vivem com menos de R$ 140 por mês. Segundo o Banco Mundial, a maior parte dos “novos pobres” virá das áreas urbanas. O aumento da pobreza na zona rural, segundo o estudo, será menor porque as taxas de vulnerabilidade já são elevadas no campo.
Bolsa Família
O estudo também avaliou o impacto do aumento da pobreza no Programa Bolsa Família. De acordo com o Banco Mundial, 810 mil famílias passariam a depender do benefício no cenário mais otimista (crescimento econômico de 0,5%) e 1,16 milhão na previsão mais pessimista (queda de 1%).
Atualmente, o Bolsa Família tem 14 milhões de famílias cadastradas, informa o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
O Banco Mundial recomenda a expansão do Bolsa Família para fazer frente à crise. “A profundidade e duração da atual crise econômica no Brasil cria uma oportunidade para expandir o papel do Bolsa Família, que passará de um programa redistributivo eficaz para um verdadeiro programa de rede de proteção flexível o suficiente para expandir a cobertura aos domicílios de ‘novos pobres’ gerados pela crise”, destacou o estudo.
De acordo com o Banco Mundial, o Brasil conseguiu construir uma das maiores redes de proteção social do mundo. A instituição recomenda que o orçamento do Bolsa Família cresça acima da inflação para ampliar a cobertura e atender a um número crescente de pobres. No cenário mais otimista, o programa deveria subir 4,73% acima da inflação acumulada entre 2015 e 2017. Na previsão mais pessimista, a alta deveria ser 6,9% superior à inflação.
Em termos nominais, o orçamento do Bolsa Família subiria de R$ 26,4 bilhões no fim de 2015 para R$ 30,41 bilhões este ano na simulação que considera crescimento econômico e para R$ 31,04 bilhões no caso de um novo encolhimento da economia. O estudo não considerou o efeito da introdução do teto para os gastos públicos, que entrou em vigor este ano, mas avalia que o ajuste fiscal não seria comprometido com a ampliação do Bolsa Família.
“O ajuste fiscal que vem sendo implementado no Brasil pode ser alcançado praticamente sem onerar ou onerando muito pouco a população pobre”, destacou o Banco Mundial. “A despeito das limitações no espaço fiscal a médio prazo, existe uma grande margem para ampliar o orçamento para os elementos mais progressivos da política social, remanejando verbas de programas de benefícios e melhorando a eficiência do gasto público.”
Fonte: O Dia
Brasileiro só vai recuperar padrão de compras daqui a quatro anos
Economia deve iniciar recuperação em 2017, mas impacto da recessão no consumo será mais longo

— É um ciclo econômico natural e um processo longo de recuperação até que se reverta em ampliação do consumo. O consumo das famílias só volta ao patamar pré-crise em 2020, mas com mais certeza em 2021 — avaliou Rafael Bacciotti, economista da Tendências Consultoria.
Carro-chefe dos últimos anos de crescimento da economia, o consumo perdeu fôlego com a maior seletividade dos bancos na concessão de crédito e com o aumento do desemprego. E o resultado mais visível dessa deterioração foi a queda nas vendas de bens e serviços. Segundo especialistas, o consumo de bens considerados prioritários, como itens de supermercado que foram colocados de lado, deve se recuperar até 2018. Já os produtos de maior valor vão demorar mais para voltar aos níveis mais elevados de demanda. Há segmentos, como o de automóveis, em que se espera que isso só ocorra em 2025, já que o consumidor precisará de crédito e da confiança de que não perderá o emprego para assumir financiamentos.
CESTA DE CONSUMO MENOR
O PIB brasileiro atingiu valor recorde em 2014, mesmo ano em que o consumo das famílias também foi histórico, totalizando R$ 3,989 trilhões. De lá para cá, corrigido pela inflação, esse número só diminuiu e regressará àquele patamar em 2020, segundo cálculos de Rodolfo Margato, economista do Banco Santander.
— O cenário ainda é desafiador para o consumo das famílias. Será uma melhora bastante gradual. Em 2017, esse componente deve apresentar, no máximo, um leve crescimento. Isso porque é um dado que depende muito do mercado de trabalho, e o que vimos nos últimos anos foi uma destruição de vagas no mercado formal. A taxa de desemprego vai subir até o segundo trimestre do ano que vem — avaliou Margato.
Sem emprego, a renda das famílias cai, o que dificulta novas aquisições. Aliado a isso, temendo o aumento da inadimplência, os bancos ficam mais restritivos em conceder empréstimos. Cenário que fez com que o consumidor fosse tirando produtos do carrinho de compras e adiasse a aquisição de bens de maior valor.
Das cestas de produtos acompanhados pela consultoria Kantar Worldpanel, o melhor ano em número de unidades consumidas foi 2014, mas declinou desde então. E os itens com maiores perdas, segundo Christine Pereira, diretora de negócios da Kantar, foram os de maior valor, como ceras para assoalho e cremes — ou seja, foram postos de lado itens não essenciais à manutenção da casa.
— Veremos alguma recuperação em 2017. E os itens básicos são os primeiros que respondem em um processo de aquecimento da economia. Mas a volta ao que foi em 2014, será possível só em 2018 — disse Christine.
E as vendas de produtos que dependem mais de crédito, como eletroeletrônicos e veículos, naturalmente levarão mais tempo para se recuperar. Não só devido ao crédito escasso, mas também porque o consumidor terá de retomar a confiança, recuperar o emprego e superar o temor do desemprego, o que está longe de acontecer. O índice de confiança do consumidor medido pela FGV está abaixo dos 80 pontos. Nos bons tempo do otimismo no Brasil, em 2012, passava dos 120 pontos.
Fonte: O Globo
A crise da economia brasileira não poupou ninguém, mas foi mais dura com os mais pobres. A parcela dos 10% mais pobres da população teve redução de 7,1% nos rendimentos do trabalho. Na faixa dos 10% mais ricos, a queda foi de 5,9%, mostrando um efeito menos perverso para os que estão no topo da pirâmide de renda, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/2015), divulgada nesta sexta-feira, pelo IBGE. De acordo com o maior levantamento sócioeconômico do país, o rendimento do trabalho caiu 5% na média. Esse é primeiro recuo em 11 anos. O rendimento passou de R$ 1.950 para R$ 1.853 (-5%). Já o rendimento de todas as fontes, que inclui aposentadorias, recebimento de aluguéis, juros, benefícios sociais, entre outros, foi R$ 1.845 para R$ 1.746 (-5,4%), enquanto o domiciliar caiu de R$ 3.443 para R$ 3.186 (-7,5%)
Embora na base da pirâmide a perda tenha sido maior, entre a metade mais pobre da população a queda da renda foi menor que entre os 50% mais ricos, o que levou à queda de desigualdade, num processo que vem desde 2001. O Índice de Gini (indicador que quanto mais perto de 1 mais concentrada é a renda) caiu de 0,490 para 0,485. Apesar da aparente boa notícia de redução da desigualdade, Maria Lucia Vieira, gerente da Pnad, explica que as razões não são tão positivas, já que há perda de renda em todas os grupos
— A redução da concentração de rendimentos é boa quando vai ficando com uma situação mais homogênea para todos. Quando todo mundo perde, fica pior para todo mundo. Caiu, mas não melhorou a situação das pessoas.
A queda da desigualdade foi menor quando se olha o rendimento da família. Nesse recorte, o Brasil ficou parado. Passou de 0,494 em 2014 para 0,493. O mesmo aconteceu na Região Norte (de 0,476 para 0,475) e na Região Nordeste (0,476 nos dois anos da pesquisa). No Sul, a desigualdade nos rendimentos domiciliares subiu de 0,446 para 0,449.
CRISE TAMBÉM REDUZIU DESIGUALDADE DE GÊNERO
A crise também poupou um pouco o rendimento das mulheres. O rendimento delas ficou 2,2% menor, passando de R$ 1.464 para R$ 1.432, enquanto o dos homens recuou 5,1% (de R$ 2.071 para R$ 1.965). Assim, o rendimento das mulheres que representava 70,6% do salário dos homens em 2014 subiu para 72,9% em 2015.
Sétima queda seguida do PIB põe Brasil na lanterna das economias
PIB do país agora aparece em último lugar numa lista de 40 países, segundo Austin Rating

A Venezuela, que vive uma crise econômica ainda mais grave que a brasileira, vinha ocupando a lanterna desta lista nos trimestres anteriores, mas ainda não divulgou seus números do trimestre passado
Na lista de 40 países analisados pela Austin, que representam 83% do PIB Mundial, o Brasil aparece atrás de economias como a Grécia (29ª na lista, com alta de 1,2% no PIB no terceiro trimestre), Ucrânia (que recupera-se de uma guerra civil, mas cresceu 1,8%).
Entre os Brics (grupo das maiores economias emergentes) o país também ficou atrás da Rússia (a 38ª, com queda de 0,6% no PIB) e muito distante de Índia, com alta de 7,3%, e China, cujo PIB mesmo em desaceleração teve expansão de 6,7% entre julho e setembro. África do Sul, que completa o grupo dos Brics, ainda não divulgou seus números, segundo a Austin.
Também em relação às economias latino-americanas o Brasil faz muito feio. O Peru, por exemplo, teve taxa de crescimento de 4,4% do PIB no triemstre passado, e figura na sexta posição na lista. O México, com expansão de 2%, é o 18º, o Chile, o 26º, com 1,6%, e a Colômbia, que cresceu 1,2%, na 30ª posição.
A partir dos resultados do terceiro trimestre, a Austin Rating informou que revisou sua projeção para o PIB brasileiro de 2016, de uma retração de 3,1% para 3,5%. Já para 2017, a consultoria vai na contramão do mercado, que já trabalha com um PIB abaixo de 1%. A Austin revisou para 1,3% ante 1,1% estimado no trimestre anterior
— A revisão para cima do PIB de 2017 recai sobre a perspectiva de melhora vigorosa dos fatores de produção a partir do segundo semestre de 2017, com destaque aos investimentos privados, bem como pela retomada do mercado de crédito com estímulo da queda da taxa de juros e início de recuperação do mercado de trabalho, além do efeito estatístico da base de comparação menor — diz Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.
Agostini acrescentou que a melhora da economia brasileira no ano que vem está ligada às mudanças no cenário global:
— Porém, a concretização de um cenário econômico melhor aqui em 2017 depende, em parte, das alterações que a economia global sofrerá a partir da mudança de política econômica nos Estados Unidos, que deve elevar a taxa de juros neste final de 2016 e que, por sua vez, altera a relação de preços dos ativos financeiros globais (moedas, ações, títulos soberanos, commodities, etc.), bem como o “efeito Trump” sobre as relações internacionais de comércio exterior.
PIB: taxa de investimento no 3º tri cai ao menor nível em 13 anos
Desempenho do indicador tem sido pior que o do restante da economia

A taxa de investimento, um indicador importante para a atividade econômica do futuro, caiu ao menor nível em 13 anos no terceiro trimestre de 2016, informou nesta quarta-feira o IBGE. O volume total de investimentos registrado entre julho e setembro representou 16,5% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de riquezas e serviços produzidos pelo país), na comparação com 18,2% no terceiro trimestre de 2015. Foi o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2003, quando atingiu 16,3% do PIB.
O desempenho do investimento tem sido pior que o da economia como um todo. A formação bruta de capital fixo — jargão do IBGE para investimento — havia crescido 0,5% no segundo trimestre deste ano mas voltou a cair entre julho e setembro, recuando 3,1%. O PIB caiu 0,8%, por sua vez.
Na comparação com o mesmo período de 2015, o tombo dos investimentos foi de 8,4%, a décima queda consecutiva. De acordo com o IBGE, a razão foi a queda das importações e da produção interna de bens de capital (máquinas e equipamentos), além do desempenho negativo do setor de construção. Na mesma comparação, o PIB recuou 2,9%.
Fonte: O Globo e Extra
Os portos do país foram afetados pela crise, mas, no Rio, o efeito foi mais intenso. Na média, os terminais portuários tiveram queda de 4% na movimentação de contêineres no ano passado. No Porto do Rio, o recuo foi três vezes maior e chegou a 15,6%, de acordo com dados do Centro Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave). Em 2015, o Rio já havia tido queda de quase 20%.
O recuo na movimentação tem impacto também na arrecadação. Dados da Secretaria de Transportes indicam que a arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a partir da movimentação de carga no Porto do Rio passou de R$ 2,39 bilhões em 2014 para R$ 1,66 bilhão em 2015. Os dados de 2016 não estão fechados, mas fontes do setor portuário e do governo estimam queda entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão, mesmo considerando que uma pequena parcela do mercado tenha sido conquistada pelo Porto de Itaguaí. Procurada, a Secretaria de Fazenda não faz projeções, embora destaque que o Porto do Rio correspondeu a cerca de 15% da arrecadação total de ICMS com importações no ano passado.
OCIOSIDADE NA FAIXA DE 80%
A perda de mercado do Porto do Rio é explicada por uma combinação de fatores. Os portos públicos vêm perdendo participação em contêineres para novos terminais privados criados após a lei de 2013 que facilita a instalação de portos privados, mas o Rio vem caindo mais. O nível de ociosidade média fica na faixa dos 80%, segundo o sindicato dos operadores portuários. Muitos dos novos portos são especializados em contêineres — nos quais são transportados produtos de maior valor agregado — com estrutura verticalizada, que facilita a negociação com armadores e tem vantagens em custos trabalhistas. Não bastassem os efeitos da crise, o Porto do Rio também sofre com problemas de dragagem no canal de acesso, que impedem a chegada de navios de grande porte, usados em rotas na América do Sul com mais frequência a partir de 2014. A Marinha impôs restrições a manobras. As maiores dimensões das embarcações que atracam em portos brasileiros são de 336 metros de comprimento por 48 metros de largura. No Rio, só podem chegar navios de até 300 metros de comprimento por 40 a 42 metros de largura.
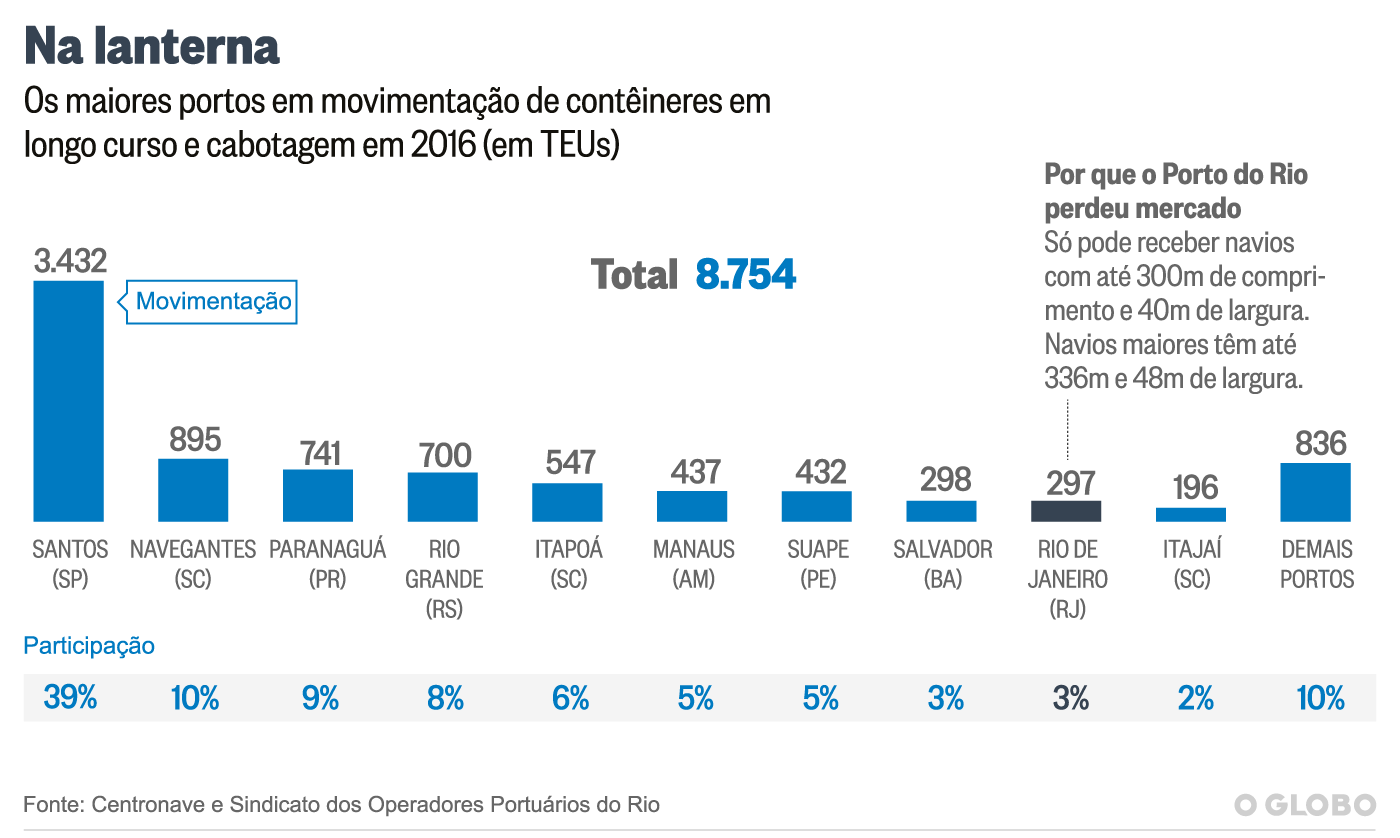
— A crise econômica não é a principal causa para a queda da movimentação nos últimos anos. O Porto do Rio é competitivo, tem custo menor para o armador, mas tinha esse problema da dragagem. Isso fez com que muitas empresas trocassem o porto por outros — afirma Luiz Henrique Carneiro, presidente do Sindicato dos Operadores Portuários e diretor-presidente da Multi-Rio, terminal de contêineres, e da Multi-Car, do grupo Multiterminais.
A restrição do calado (profundidade mínima de água necessária para a embarcação flutuar) é barreira relevante, que pode impor risco aos navios ou atrasar operações. Hoje, 40% dos navios de grande porte que circulam na rota entre América do Sul e Ásia não podem atracar aqui, segundo Carneiro.
— Esses problemas vêm gerando dificuldades para os grandes navios cargueiros, inclusive em custos operacionais, como a necessidade de mais rebocadores a cada manobra de atracação ou desatracação — disse Claudio Loureiro de Souza, diretor-executivo do Centronave, que reúne 22 armadores, brasileiros e internacionais, responsáveis por 95% da carga em contêineres do comércio exterior brasileiro.
PELO PORTO DO RIO
-

Porto do Rio pretende aumentar movimentação com obras de dragagem Foto: Fernando Lemos / Agência O Globo
-

Capacidade de movimentação de carga no porto aumentou em cinco vez Foto: Fernando Lemos / Agência O Globo
-

Empresas privadas que operam terminais investiram cerca de R$ 1 bilhão em sua ampliaçãoFoto: Fernando Lemos / Agência O Globo
-

Movimentação de carga gerou cerca de R$ 900 milhões em ICMS no ano de 2016 Foto: Fernando Lemos / Agência O Globo
-

Exportação de carros aumentou 13% no ano passado, segundo o terminal de carros do Porto, a Multi-CarFoto: Fernando Lemos / Agência O Globo
-

Porto fez obra de dragagem para receber navios de maior porte Foto: Fernando Lemos / Agência O Globo
-

Foram exportados 95 mil veículos em 2016 pelo Porto do Rio Foto: Fernando Lemos / Agência O Globo
Loureiro, da Centronave, resume os problemas do terminal em quatro fatores: sofrível sistema de acesso terrestre, crise do setor de petróleo e gás, segurança no estado e problemas de acesso marítimo ao porto, notadamente a dragagem. Entre os terminais que estão roubando participação do Rio e, por consequência, aquecendo as economias em suas regiões estão aqueles localizados em Santa Catarina, como Itajaí e Navegantes, o que mais cresceu no ano passado.
Para Riley Rodrigues, gerente de Estudos de Infraestrutura da Firjan, o porto do Rio tem vantagens como localização, proximidade dos locais de origem e destino das encomenda e tempo menor de liberação de cargas quando é necessária vistoria física. Em dados que serão publicados pela Firjan, ele diz que o tempo médio de liberação no Rio é de 12 dias, contra 15 de Santos:
— Três dias fazem grande diferença porque a carga pode chegar ao destino antes ainda de sair de Santos, mesmo com o trânsito.
OBRA DE DRAGAGEM PARA RECONQUISTAR MERCADO
Segundo o presidente do Sindicato dos Práticos do Estado do Rio (especialistas que fazem as manobras para a atracação dos navios nos portos), Everton Schmitd, a maior dificuldade atual é que a área de manobra é estreita: o navio tem de entrar de frente no terminal e, depois, ser manobrado com a ajuda de, no mínimo, dois rebocadores:
— O que faltava era a dragagem. Não adiantava só aumentar a profundidade, mas também alargar o canal. A manobra é mais demorada e complexa por causa da geografia da região, mas os práticos sabem fazer isso bem.
Em 2011, o porto passou por obras de dragagem, mas elas não tiveram o efeito esperado. No mês passado, foram concluídas novas obras e o terminal aguarda a homologação da Marinha. Carneiro estima que o porto poderá receber navios de grande porte no 2º semestre.
— O porto poderá receber navios que transportam até 10.000 TEU (medida usada para calcular volume em contêiner), enquanto antes só podia receber navios com cerca de 6.000 TEU. Quase dobra a capacidade — disse, destacando que as empresas privadas que operam os terminais investiram quase R$ 1 bilhão nos últimos anos.
A dragagem também cria expectativa do ponto de vista do recolhimento de tributos. A Secretaria de Fazenda avalia que a obra pode “atrair novas empresas ao estado, ao facilitar o transporte de mercadorias, o que poderia gerar aumento na arrecadação de ICMS”.
Segundo o presidente da Associação dos Usuários dos Portos do Rio (Usuport-RJ) e da Comissão Permanente para Assuntos Portuários da Prefeitura do Rio de Janeiro (CPAP-Rio), André de Seixas, após a dragagem, ainda existirá o gargalo rodoviário:
— Precisamos, ainda, equacionar os acessos terrestres, e isso vem sendo prioridade na comissão. Temos pela frente, de forma bem concreta, dois grandes projetos: a Via Alternativa e Avenida Portuária.
Segundo Carneiro, a EcoPonte deve construir o viaduto que ligará a Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, até o Porto do Rio, a chamada Avenida Portuária. A obra tem previsão de conclusão até 2020. Isso reduziria o fluxo de caminhões no fim da Avenida Brasil. O Sindicato dos Operadores Portuários negocia com governos federal, estadual e municipal a construção da Via Alternativa, por ruas internas do Caju até o Porto. A primeira fase foi feita há alguns anos. Falta concluir a segunda etapa. O gasto estimado é de R$ 80 milhões.
Especialistas apontam a falta de segurança e conservação das rodovias de acesso, além do trânsito na Avenida Brasil em horários de pico. Para Nilson Carlini, consultor do setor, a localização urbana é um entrave para o Porto do Rio, que dificulta o acesso em terra e limita sua expansão.
Outras entidades do setor, como a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público (Abratec), adotam metodologia própria, mas seus dados também apontam recuo no movimento de contêineres do Rio, em 2016. O Porto do Rio é administrado por Docas, que não quis comentar o assunto.
Fonte: O Globo









You have to Login